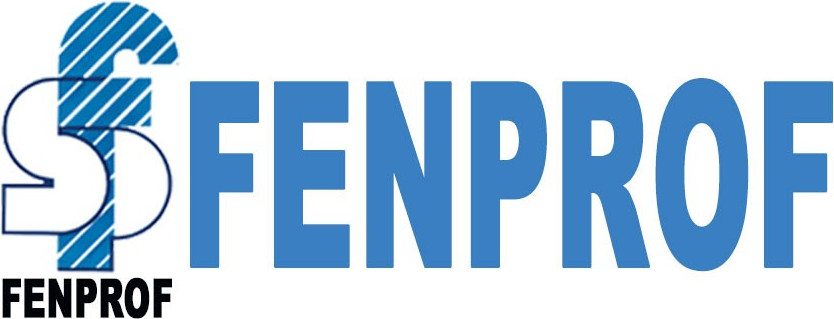Começo por agradecer o simpático convite que me foi endereçado pela FENPROF para participar neste Seminário e, simultaneamente, felicitar a organização deste evento pela pertinência e oportunidade da interrogação/questão orientadora dos trabalhos: DEMOCRACIA NA ESCOLA PÚBLICA: QUE FUTURO? De facto, hoje, mais do que em qualquer outro período do pós 25 de Abril de 74, faz todo o sentido que nos interroguemos sobre os desafios que se colocam à Escola Pública e, particularmente, em que medida a sua matriz fundadora (ágora de racionalidades e mundos de vida) surge comprometida com as derivas tecnocráticas e a obsessão performativa do pensamento dominante.
A "causa próxima" deste Seminário foi a recente (2º de Dezembro último) aprovação em Conselho de Ministros de um projecto de dec.-lei intitulado "Regime Jurídico de Autonomia, Administração e Gestão dos Estabelecimentos Públicos da Educação Pré-Escolar e dos Ensinos Básico e Secundário".
1. Considerações preambulares
Trata-se de um documento que se desenvolve ao longo de cerca de 40 páginas e 69 artigos, distribuídos por IX Capítulos, com extensão muito desigual (o mais curto com 2 artigos- dedicado ao "Regime de autonomia" e o mais longo com 29 artigos- consagrado ao "Regime de administração e gestão"). No "preâmbulo" do referido projecto de dec.-lei, agora em "consulta pública", depois de um auto-elogio sobre a bondade de algumas das medidas de política educativa desta equipa ministerial (incluindo aí o polémico ECD, com destaque para criação da categoria de professor titular), justifica-se a necessidade de alterar o "regime jurídico" em vigor (Dec.-Lei 115-A/98) invocando três metas/objectivos fundamentais: i) "reforçar a participação das famílias e das comunidades na direcção estratégica dos estabelecimentos de ensino"; ii) favorecer o desenvolvimento de "boas lideranças e lideranças fortes" e; iii) reforçar a autonomia das escolas. Esclarece-se também, que a revisão do 115-A/98, no sentido da prossecução das metas antes enunciadas, decorre de uma "necessidade" identificada no programa do XVII Governo Constitucional.
Sem questionar (pelo menos por agora) a relevância das metas propostas para a "revisão" do "regime jurídico" em vigor, devemos interrogar-nos se o diagnóstico implícito tem sustentação empírica e se, a ser assim, a sua superação pressupunha, ou pressupõe, a referida "revisão". Por outras palavras, estaremos perante cenários quotidianos de défice de participação comunitária, lideranças fracas e de uma autonomia sobretudo "retórica"? Haverá alguma incompatibilidade normativa entre o actual "regime jurídico" e a concretização das metas/objectivos invocados? Será o actual "regime jurídico" impeditivo de um reforço da participação comunitária, do desenvolvimento de lideranças fortes e da materialização de uma autonomia substantiva?
A análise do normativo em vigor e a evidência empírica disponível militam claramente contra a argumentação legitimadora do projecto de Dec.-Lei em discussão ("consulta pública"). Há, de facto, um défice de participação comunitária. O que não é legítimo (nem sustentável) é imputá-lo ao actual enquadramento normativo. Na verdade, por exemplo, no Dec.-Lei 115-A/98, o legislador não impôs qualquer tecto à participação dos pais na estrutura de direcção estratégica (a Assembleia). Procurou antes, assegurar uma representação mínima (10%). Assim sendo, não é incompatível com o referido normativo, por exemplo, uma composição da Assembleia em que os pais tenham um peso superior a 50% dos lugares, o que já não é possível, de acordo com o mesmo normativo, para o caso dos professores.
Quanto à necessidade de promover "lideranças fortes", e antes de questionarmos o sentido desta expressão, parece que o actual "regime jurídico" não tem sido impeditivo da sua emergência. Como oportunamente observa J. Barroso, no seu bem fundado Parecer sobre o Projecto de Dec.-Lei agora em discussão, das 100 escolas e agrupamentos de escolas avaliados externamente em 2006-2007, "91% tiveram uma apreciação de Muito Bom e Bom no domínio da 'organização e gestão escolar' e 83% idêntica apreciação no domínio da 'liderança'", ou seja, o actual enquadramento normativo não impediu, para a grande maioria dos casos, a afirmação de "boas lideranças". Acresce ainda que, como demonstra uma vasta literatura, o desenvolvimento de lideranças transformadoras, parece não ser compatível com a "teoria do grande chefe" subjacente ao "reforço da liderança" e/ou à promoção de "lideranças fortes" para que se aponta no projecto de regime jurídico
Por último, o reforço da autonomia da escola. Não podia estar mais de acordo com o juízo avaliativo do legislador sobre o grau de concretização actual deste objectivo. No preâmbulo do projecto de Dec.-lei em discussão afirma-se: "A necessidade de reforçar a autonomia das escolas tem sido reclamada por todos os sectores de opinião. A esta retórica, porém, não têm correspondido propostas substantivas, nomeadamente no que se refere à identificação das competências da administração educativa que devem ser transferidas para as escolas." Devo reconhecer que eu não teria dito melhor. Na verdade, esta afirmação faz-me recordar certas cenas de telenovela em que, o guionista, perante a inverosimilhança da situação, põe o próprio actor da telenovela a afirmar: "até parece que estamos numa telenovela!". Depois daquele juízo avaliativo o leitor cria fundadas expectativas de que, finalmente, se vai ultrapassar o nível da retórica e atingir o domínio da substantividade. O sonho dura pouco, pois a afirmação que segue àquele juízo avaliativo recoloca-nos novamente em terra ao lembrar-nos que
"Convém considerar que a autonomia não constitui um valor absoluto, mas um valor instrumental, o que significa que do reforço da autonomia das escolas tem de resultar uma melhoria do serviço público de educação. É necessário, por conseguinte, criar condições para que isso se possa verificar, instituindo nomeadamente um regime de avaliação e prestação de contas."
Primeiro põe-se em evidência o mero valor instrumental da autonomia (uma técnica de gestão, portanto)[1], depois, e ainda mais problemático, estabelece-se uma relação directa (e simplista) entre avaliação (externa, claro!) e melhoria. Aqui também "convém considerar" o que afirmou um alto responsável da IGE num encontro internacional em Lisboa uns dias antes da aprovação, em Conselho de Ministros, do projecto de Dec.-Lei que agora nos ocupa. Nesse encontro, em que participaram inspectores de vários países, o citado alto responsável da IGE, convocando o Secretário Geral da Associação Britânica dos Directores das Escolas e dos Colégios, fez-nos saber que
"Do mesmo modo que não é por pesar o porco mais vezes que este engorda, também não há evidência de que mais inspecção melhore as escolas."
Percebe-se, portanto, que a invocação da autonomia serve apenas para legitimar o reforço do controlo, a exigência de prestação de contas e a generalização da avaliação externa. Mantém-se também a ideia de uma "autonomia contratualizada", indexada à avaliação externa (realizada pela inspecção).
Convém notar que não há nada de intrinsecamente errado na ideia de "contrato". O problema coloca-se quando o mesmo é celebrado entre dois (ou mais) contratantes dispondo de um poder negocial muito assimétrico. Nestes casos, o mais provável é que o "contrato", em vez de assumir a forma de um "tratado" (em que os parceiros consensualizam direitos e deveres das partes), se configure antes como um "ditado" (em que uma das partes impõe/dita unilateralmente a sua agenda). A História é pródiga em exemplos de "ditados" travestidos de "tratados".
Sintetizando, se a autonomia, até ao momento, não passou de uma mera retórica, não creio que tal se possa imputar ao Dec.-Lei 115-A/98 e, menos ainda, às escolas. Por outro lado, a partir da análise do articulado do "novo regime jurídico" proposto, não se vislumbram razões para crer que, finalmente, a referida retórica autonómica seja superada. Há, antes, fundadas razões para sustentar que estamos perante uma re-retorização da autonomia, acompanhada de práticas de recentralização, materializadas, por exemplo, na usurpação de certas competências antes (até agora) exercidas pelas escolas, num certo esvaziar das estruturas desconcentradas do ME e no privilegiar de relações directas entre "a 'sede' do poder político e a direcção das escolas", como assertivamente denuncia J. Barroso no Parecer supra-citado.
2. Entre a esquizofrenia performativa e o despotismo iluminado
Um dos vectores nucleares que orienta (e confere sentido a) esta proposta de reforma do "regime jurídico", que actualmente regula o governo das escolas, é a obsessão com a eficiência e, sobretudo, com a eficácia destas organizações educativas, a traduzir na apresentação de "resultados" e na "prestação de contas". Os processos de negociação e de construção colectiva de consensos são substituídos pelas decisões iluminadas de um poder central cada vez mais autocrático, pontualmente partilhadas com o seu delegado local: o "Director" da escola, "dotado da autoridade necessária" para assumir o referido papel. É esta missão de "último elo da cadeia hierárquica" que permite descodificar o aparente non sense consagrado na alínea d) do ponto 5 do artº 25º. Aí se consagra que:
"[O mandato do Director pode cessar] A todo o momento, por despacho fundamentado do membro do governo responsável pela área da educação na sequência de processo de avaliação externa ou de acção inspectiva que comprovem manifesto prejuízo para o serviço público ou manifesta degradação ou perturbação da gestão do agrupamento de escolas ou escola não agrupada."
(artº 25º, nº 5, alínea d)
Nas alíneas anteriores do número do artigo supra citado já se prevê a possibilidade de o mandato do Director cessar a pedido deste ou por deliberação, por maioria qualificada, do Conselho Geral fundada em "manifesta desadequação da respectiva gestão", desde que devidamente comprovada. Prevê-se ainda a que o mandato do Director possa cessar, por "despacho fundamentado do director regional de Educação, na sequência de processo disciplinar que tenha concluído pela aplicação de sanção disciplinar" (alínea c) do nº 5 do artº 25º). Acrescentar que o mandato do Director pode cessar "a todo o momento, por despacho fundamentado do membro do governo responsável pela área da educação" com base nos resultados da "avaliação externa" ou de "acção inspectiva" constitui, como denuncia J. Barroso no seu Parecer sobre a proposta de regime jurídico em apreço, uma redundância que, "além de absurda é inútil". Contudo, considerando que nos "deveres específicos" do Director se inclui "Cumprir e fazer cumprir as orientações da administração educativa" (alínea a) do artº 29º) e que lhe cabe igualmente "executar localmente as medidas de política educativa" (preâmbulo), percebe-se melhor a dupla dependência deste gestor escolar e, portanto, a possibilidade de cessação do seu mandato por "despacho fundamentado do membro do governo responsável pela área da educação"
Apesar de algumas "novidades", o "novo regime" agora proposto, como defendi num texto de opinião a publicar proximamente no jornal A Página, apresenta muito pouco de verdadeiramente novo ou, por outras palavras, como então sustentei, o documento em análise tem pouco de original e de interessante e, parafraseando um conhecido juízo avaliativo, pode-se afirmar, com toda a propriedade, que no pouco em que é interessante não é original e no pouco em que é original não é interessante!
Comecemos pela "direcção estratégica"
No documento em apreço propõe-se um "novo" órgão colegial de direcção agora designado "Conselho Geral". A sua composição e competências não apresentam, num primeiro nível de análise, diferenças significativas em relação à "velha" Assembleia instituída pelo dec.-lei 115-A/98. Há, contudo, alguns "pequenos" pormenores. Se os corpos sociais aí representados são os mesmos, o seu peso relativo é agora diferente. Por exemplo, o número de representantes dos professores não pode ser superior a "40% da totalidade dos membros do Conselho Geral" (ponto 2 do artº 12º). O que antes era uma possibilidade (dependente da própria escola) torna-se agora uma imposição externa. A questão do peso relativo dos professores no órgão de direcção vem constituindo uma problemática recorrente ao longo dos últimos 20 anos, ou seja, desde que, pela primeira vez, no âmbito da CRSE, se sustentou a necessidade de distinguir e separar órgãos de direcção de órgãos de gestão. Vejamos sinteticamente as "soluções" propostas (e, em alguns casos, praticadas) ao longo das duas últimas décadas:
|
Seminário/ Braga/ 1987 |
PGR 1988 |
Dec. Lei nº 172/91 |
Dec. Lei nº 115-A/98 |
Projecto de Lei nº 268/X- PSD-2006 |
Projecto de Dec-Lei nº 771/2007 | |
|
Designação |
Conselho de Direcção |
Conselho de Direcção |
Conselho de Escola |
Assembleia |
Assembleia |
Conselho Geral |
|
% de prof.s |
20% a 30% |
= 50% |
= 50% |
? 50% |
? 30% e < 50% |
30% a 40% |
Os argumentos aduzidos pelos defensores de uma representação inferior a 50% articulam-se com a natureza política do órgão. Não se tratando de um órgão de natureza técnica, não haveria qualquer razão que sustentasse uma representação maioritária dos professores. Os que sustentam uma composição com forte representação docente ancoram a sua posição na necessidade de subordinar todas as decisões escolares ao primado da pedagogia.
Na minha opinião, mais contestável (e surpreendente) do que a restrição anterior é a exigência de que, pelo menos, 25% dos candidatos à representação dos docentes tenham que ser "professores titulares". Este requisito, como afirmei no texto de opinião referido antes, faz o mesmo sentido que exigir que pelo menos 25% dos candidatos a representar os pais estejam filiados no partido do governo, ou que pelo menos 25% dos candidatos a representar os alunos tenham olhos azuis, ou ainda que pelo menos 25% dos candidatos à representação dos funcionários sejam destros.
Outra "novidade" decorre da imposição que determina que o presidente do Conselho Geral não pode ser um professor (ponto 1, artº 13º, alínea a)! Se até aqui se determinava que tinha que ser um professor, agora, com o mesmo radicalismo, exlui-se este corpo profissional dos elegíveis para a função de presidência do órgão. Até se poderia compreender que o presidente do Conselho Geral não tivesse que ser um professor, contudo, impor que o não possa ser envolve uma discriminação (negativa) cujos insondáveis motivos escapam ao comum dos mortais. Desde logo, porque na proposta em análise não se dá qualquer explicação para a referida exclusão
Do lado das "novidades" pode-se também creditar a competência do Conselho Geral segunda a qual lhe cabe "seleccionar e eleger o director" (ponto 1, artº 13º, alínea b). Trata-se, na verdade, de duas (aparentes) "novidades": i) este órgão de "administração e gestão" será obrigatoriamente unipessoal e ii) será designado através de um processo "híbrido" que envolve uma combinação do concurso com a eleição. A "novidade" é, contudo, ilusória pois, quer o processo de designação quer a natureza unipessoal do órgão constituem uma ressurreição de uma "solução" que se julgava morta e enterrada após o "arquivamento" do insucedido dec.-lei 172/91.
O mais estranho é que este processo de recrutamento, que já tinha sido experimentado e objecto de uma "avaliação externa" por parte do Conselho de Acompanhamento e Avaliação, e que mereceu do referido Conselho uma apreciação negativa[2], surja agora como um dos pilares para promover "boas lideranças e lideranças fortes". O mesmo pode ser dito em relação à imposição de um órgão unipessoal para as funções de "gestão administrativa, financeira e pedagógica". O Conselho de Acompanhamento e Avaliação do dec.-lei 172/91 também se pronunciou sobre este ponto, não tendo encontrado evidência empírica que fundamentasse a bondade da unipessoalidade da "gestão operacional", avançando, congruentemente, a possibilidade dos dois cenários: órgão unipessoal ou órgão colegial.
No enquadramento normativo actual (dec.-lei nº 115-A/98) existe a possibilidade de opção por um órgão unipessoal para o exercício daquelas funções, cabendo à escola a competência de decidir sobre o assunto. É do conhecimento geral que as escolas optaram esmagadoramente por um órgão colegial. Na proposta aqui em apreciação, os proponentes não têm dúvidas: o órgão de gestão tem de ser unipessoal. Pena é que não tenham partilhado connosco a fundamentação teórico-empírica das suas certezas.
A opção entre a colegialidade e a unipessoalidade do órgão de gestão constitui, ao lado do peso relativo dos professores no órgão de direcção, uma questão igualmente recorrente (e objecto de controvérsia) sempre que se discute a reforma do governo das escolas. Como fizemos para o peso relativo dos professores no órgão de direcção, apresentamos de seguida uma síntese relativas às sucessivas "soluções" para este segundo "pomo de discórdia"
|
Seminário/ Braga/ 1987 |
PGR 1988 |
Dec. Lei nº 172/91 |
Dec. Lei nº 115-A/98 |
Projecto de Lei nº 268/X- PSD-2006 |
Projecto de Dec-Lei nº 771/2007 | |
|
Colegialidade/ unipessoalidade |
Unipessoal |
Colegial |
Unipessoal |
Colegial/ Unipessoal |
Unipessoal |
Unipessoal |
|
Processo de designação |
Concurso |
Inerência de funções |
Concurso + Eleição |
Eleição |
Concurso + Eleição |
Concurso + Eleição |
Apesar da sensibilidade (e simbolismo) da questão, não há evidências que sustentem a bondade absoluta de uma ou outra solução. Por exemplo, um órgão colegial pode ser tão ou mais autoritário do que um órgão unipessoal. Contudo, como referimos antes, a dimensão simbólica da unipessoalidade é ainda muito forte. Neste contexto, a imposição de um órgão unipessoal, sem uma argumentação sólida que a sustenta, poderá ser interpretada como mais uma arbitrariedade e usurpação de autonomia da escola para decidir entre as duas alternativas. O avocar, por parte da administração central, da competência para decidir entre a unipessoalidade e a colegialidade do órgão de gestão, num quadro em que não há uma sustentação técnica irrefutável para decidir entre as duas alternativas, parece fazer parte das certezas prévias da referida administração e que, por isso, devem ser colocadas acima de qualquer discussão.
O processo de designação do órgão de gestão constitui igualmente uma "matéria sensível". Se o órgão de gestão fosse um mero executor das deliberações do órgão de direcção e claramente subordinado a este, o processo de escolha perderia alguma da sua relevância (a selecção por concurso seria até admissível). Num contexto de persistente centralização e em que o órgão de gestão se vem assumindo, cada vez mais, como o principal poder dentro da escola, poder esse em relação (e subordinação) directa com o Ministério da Educação (via, nomeadamente, Conselho das Escolas), o "processo de designação" ganha outra centralidade.
A preponderância do "Director" é ainda acrescida pelo facto de, obrigatoriamente, presidir ao Conselho Pedagógico e de lhe competir designar os vários docentes responsáveis pelas estruturas de coordenação e supervisão pedagógica. A manter-se esta "prerrogativa", uma das implicações será que o Conselho Pedagógico se caracterizará como um órgão essencialmente constituído por docentes da "confiança" do Director, ou seja, o que se ganha em coesão perde-se em diversidade de perspectivas, de valores, de agendas, de projectos político-pedagógicos. Os riscos de monolitismo e de "pensamento único" são aqui evidentes, com as inevitáveis consequências sobre a afirmação da escola como espaço de diálogo e coexistência de "vários mundos". Também por isso, a oportunidade e pertinência da interrogação que serve de leitmotiv a este Seminário: Democracia na Escola Pública: Que Futuro?
O documento em "consulta pública" apresenta ainda outra "originalidade", uma estreia absoluta no pós 25 de Abril de 1974: podem candidatar-se ao cargo de "director" docentes do ensino particular e cooperativo com experiência de gestão nos respectivos estabelecimentos de ensino. Contudo, a originalidade maior resulta da combinação do estipulado nos pontos 3 e 4 (e respectivas alíneas) do artº 21º: um director pedagógico, ainda que sem formação específica, de um qualquer colégio particular falido pode ser oponente ao concurso. Em contrapartida, um professor de uma escola pública, com vários anos de exercício da docência, com formação especializada em administração educacional, com eventual experiência de gestão, estará excluído do concurso se não pertencer "aos quadro de nomeação definitiva", requisito que, obviamente, não é exigido ao director do colégio particular. Em síntese, para se ser director de uma escola pública não é preciso ser competente e ser competente não basta!
Apesar da usurpação de algumas das competências antes atribuídas às escolas, e de não se vislumbrar nenhuma competência verdadeiramente nova devolvida às escolas, os proponentes desta proposta ainda nos querem convencer que um dos objectivos da mesma é "o reforço da autonomia da escola"! É certo que o termo está abundantemente semeado pelo texto (contabilizamos cerca de meia centena de referências ao mesmo). Contudo, a construção retórica da realidade tem as suas limitações. Esta proposta de "regime jurídico" vem dar razão à advertência que, há 20 anos atrás, J. Formosinho fez a propósito dos "Princípios" que deveriam orientar a reforma da "organização e administração da escola portuguesa":
"Não se pode entregar à Administração Central a liderança de uma reforma em que um dos objectivos é diminuir a extensão e o tipo de influência dessa mesma Administração." (Formosinho, 1988: 90).
De igual modo se pronunciaram os relatores do Relatório do CAA do "regime de direcção, administração e gestão" consagrado no Dec. Lei nº 172/91:
"Não parece possível consagrar e regulamentar a autonomia das escolas /áreas escolares através, exactamente, dos mesmos processos, regras e linguagem que sempre serviram no passado, objectivos políticos antagónicos, ou seja, definir primeiro todas as regras, sem excepção, e esperar depois por um exercício da autonomia, quando este envolve, desde logo, a possibilidade de intervenção na própria produção de regras. Porque a autonomia, mesmo em graus variáveis, não é nunca exercida pelos actores enquanto jogo que simplesmente reproduz as regras dadas; pelo contrário, a autonomia só é concretizável a partir do momento em que os actores escolares dispõem da faculdade de participar na produção das regras e mesmo de produzirem certas regras próprias e não apenas de agirem com base em regras totalmente impostos por outros." (CAA, 1996: 9).
A intelegibilidade do documento agora em apreciação pressupõe a sua integração no puzzle mais complexo do qual é parte integrante. Essa "contextualização" confere um sentido específico a algumas das propostas que o integram. Desde logo, sobressai uma invariante (estrutural?) que atravessa de forma indelével o referido puzzle: uma desconfiança, quase obsessiva, em relação à classe docente. A concepção "tayloriana" do professor subjacente à generalidade das medidas de política educativa da actual equipa ministerial, combinada com a obsessão performativa de procura de "resultados", conduzem logicamente à necessidade de fiscalização e controlo apertados e à consequente transformação da escola numa espécie de panóptico benthamiano. Pressupondo-se que, até prova em contrário, o professor foge a responsabilidades, é preguiçoso, vadio e incompetente, impõe-se-lhe a obrigatoriedade de fazer prova de que respeita escrupulosamente as "instruções" intra e, sobretudo, supra-organizacionais. Neste contexto, o professor tenderá cada vez menos a trabalhar com as crianças, para a passar a trabalhar as crianças (Ball, 2002) para que estas brilhem nos testes. As escolas, naturalmente, envolver-se-ão cada vez menos nos absorventes processos de promoção do sucesso educativo, para se dedicarem a vistosas encenações de fabricação dos resultados (Ball, 2002). Neste cenário, mais importante do que a autenticidade, parece ser a plasticidade, ou seja, a capacidade de ajustamento às demandas do momento, o que implica, desde logo, "reformar" o próprio professor. É que, como alerta Ball (2002: 3), "A reforma não muda apenas o que nós fazemos, muda também quem somos".
Já é tempo desta equipa ministerial respeitar a pessoa e o profissional que moram em cada professor!
Referências:
BALL, Stephen (2002). Reformar as escolas/reformar os professores e os terrores da performatividade. Revista Portuguesa de Educação, Vol 15, nº 2.
BARROSO, J. (2008). Parecer (Projecto de Decreto-Lei nº 771/2007-ME). Texto policopiado.
CAA/ME (1996). Avaliação do regime de direcção, administração e gestão dos estabelecimentos de educação pré-escolar e dos ensinos básico e secundário (Decreto-lei nº 172/91, de 10 de Maio). Lisboa: Ministério da Educação.
FORMOSINHO (1988). Princípios para a organização da escola portuguesa. In CRSE, A Gestão do Sistema Escoar. Lisboa: GEP/ME.
LIMA, Licínio C. (1995). Reformar a administração escolar: a recentralização por controlo remoto e a autonomia como delegação política. Revista Portuguesa de Educação, Vol 8, nº 1.
(Texto em construção)
[1] Para uma análise da autonomia como "técnica de gestão" e como "delegação política", ver Lima (1995).
[2] Cf. p. 52 do Relatório de Avaliação do regime de direcção, administração e gestão dos estabelecimentos de educação pré-escolar e dos ensinos básico e secundário (Decreto-Lei nº 172/91, de 10 de Maio). Conselho de Acompanhamento e Avaliação/Ministério da Educação, Março de 1996.