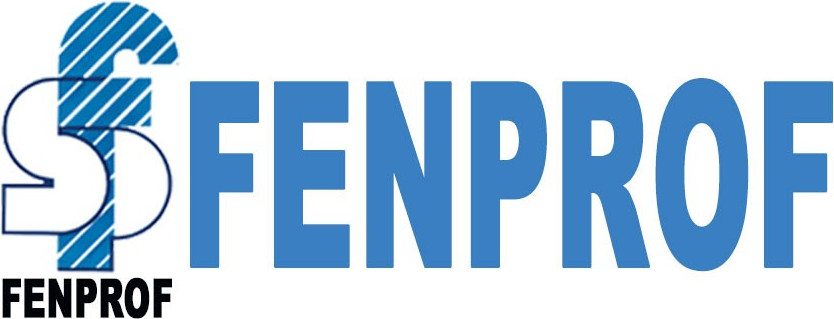Durante largos anos, António Teodoro foi o rosto das lutas dos professores, quando a ação sindical tinha uma forte componente de inovação pedagógica. Hoje, dedica-se às Ciências da Educação, sobretudo em Portugal e no Brasil. "A beleza do conhecimento deve chegar a todas as camadas populares", defende.
Em Portugal é possível fazer um acordo de regime para uma alteração profunda do sistema de ensino, uma reforma global?
O primeiro governo do engenheiro Guterres tinha a "paixão da educação" e tentou construir um pacto educativo com o ministro Marçal Grilo e os secretários de Estado Guilherme de Oliveira Martins e Ana Benavente. Nessa ocasião - depois dos Estados Gerais e com bandeiras como a educação pré--escolar e, sobretudo, uma escola compreensiva e inclusiva - foi tentado e foi apresentado um texto de pacto educativo. Não foi possível. A questão da educação é eminentemente política, não no sentido partidário mas onde converge o que desejamos para a sociedade.
É política ou ideológica?
O Paulo Freire diria: é política no sentido de que temos aspirações e modelos de sociedade. Muitas vezes, as fronteiras até nem são partidárias. Uma pessoa como o Joaquim de Azevedo, que se situa num partido como o PSD, não se identifica com a política do ex-ministro do PSD Nuno Crato. Muitas vezes as fronteiras são de conceções de vida e de escola, dos caminhos para encontrar a felicidade, em que se valoriza mais a competição ou a solidariedade. São olhares sobre o mundo e a sociedade que se refletem na forma como trabalhamos. Na altura, defendi que encontrar convergências era o caminho. Mas não foi possível, num período em que a conflitualidade era menor do que a de hoje.
Hoje seria mais difícil?
Hoje, provavelmente, seria mais difícil devido ao que Gramsci chamaria a construção progressiva de hegemonias. A educação tem vindo a ser colonizada pela economia. Quem fala de educação não são os educadores nem os cientistas sociais da educação. São sobretudo os economistas e também uma nova categoria, os opinion makers que falam sobre tudo. Constroem-se opiniões que estão nos jornais, nos canais de televisão, nos blogues. Todas estas redes se entrecruzam e refletem os lugares-comuns. Até aos anos 1950 e 1960, a educação estava ligada à socialização, aos valores, à construção de identidades; desde os anos 1960, cada vez mais está ligada à formação dos recursos humanos e é um elemento de aumento da produtividade. Isto relegou para segundo plano os projetos educativos que tivessem como centro a construção da felicidade, nomeadamente das crianças e dos jovens, que passam grande parte da vida numa instituição chamada escola. O pensamento conservador e o neoliberalismo criaram uma ideia que entrou profundamente nas políticas, em confronto com muitas pedagogias: eu só me torno melhor pela competição.
Isso não é muito anglo-saxónico?
Sim. É a transposição do mercado para as relações sociais: a economia melhora porque há competição. As pedagogias que assentavam na solidariedade, no trabalho de grupo, na construção de projetos coletivos, foram relegadas para segundo plano. E as políticas educativas tentaram responder. Como se cria competição onde ela não existe? Pela criação de quase-mercados. As escolas até podem continuar públicas, mas cria-se rankings, avaliações externas, para que a competição gere a melhoria. Portugal recebe isto com muitos anos de atraso. As políticas de Nuno Crato surgiram quando aquelas teorias já estavam em regressão onde existiram. Defendiam que as políticas da educação devem centrar-se num currículo central e básico, tirando-lhe as expressões, a cidadania, a discussão sobre direitos. O fundamental da escola passou a ser a língua e a matemática.
Essa ideia, depois, não se tornou uma verdade generalizada?
Tornou-se senso comum e muitas vezes coincide com o senso comum dos professores e dos pais. Um dos nossos mais conhecidos jovens neurocientistas disse-me: no cérebro, a aprendizagem matemática é feita na mesma área onde se aprende violino. Ou seja, a ideia de que há hierarquias de conhecimento e disciplinas não tem nenhuma base nem nas neurociências, na pedagogia, na sociologia nem na psicologia do desenvolvimento.
Mas fez escola?
Tornou-se central e sem discussão. Também se generalizou a ideia da necessidade de avaliações externas que controlem o que é feito internamente. As medidas que resultam do discurso da crise financeira acentuam isso. Daí vem a redução do número de professores, o aumento do número de alunos por turma, a menor preocupação com a inclusão de crianças com necessidades educativas especiais ou com défices de atenção. Isso permite priorizar uma racionalização - iniciada, aliás, por uma governante socialista, Maria de Lurdes Rodrigues. Acentuou-se na opinião pública a desconfiança face aos professores, em contradição com o facto de termos os professores com mais formação na nossa história recente. A ideia é que os exames, sob a forma que se quiser - sejam as provas tipo internacional, como o PISA, sejam os exames internos -, são o elemento principal de regulação, porque geram efeitos a montante, nas práticas dos professores. Se só vou avaliar a língua materna, a matemática e as ciências, isto leva a que as políticas curriculares se centrem nessas disciplinas.
Está a falar do modelo de avaliação?
O novo ministro, ao acabar com os exames tal como estavam e ao criar provas de aferição de outras disciplinas, combate a ideia de que apenas contam o Português e a Matemática. Se no ensino de uma língua estrangeira só vou avaliar com um teste escrito, para quê perder tempo com a oralidade? Discuti muito com o saudoso ministro Mariano Gago a questão da iniciação científica e de no ensino secundário existir trabalho experimental. Defendi que essa modificação tinha de ser paralela à modificação da avaliação. Com os exames tal como estão, porque é que o professor há de ir para o laboratório, trabalhar junto do microscópio, fazer experiências de química e de física, se isso depois não é avaliado? Para quê fazer um investimento brutal em laboratórios que vão ser museus vivos?
A formação dos professores leva-os a repetir os modelos que conhecem?
Na sociologia das profissões, estuda-se as práticas profissionais e há conclusões inequívocas. Uma delas é que as escolas de formação inicial têm pouca influência no modo como os professores trabalham. O essencial é retirado de modelos que tiveram no ensino secundário. A formação de professores precisa de ser completamente mudada. Nenhuma faculdade de educação deve ser criada se não tiver escolas de residência, tal como uma faculdade de Medicina tem um hospital associado. As escolas e a formação têm de estar ligadas à prática e à pesquisa, para ajudar a reconstruir o habitus, os esquemas práticos com que trabalhamos. Temos estudos que nos dizem que as crianças e os jovens gostam da escola mas detestam as aulas. Gostam da socialização mas a forma de ensinar, o trabalho, a organização do espaço, tornam aquilo aborrecido, utilizando a expressão de Pepe Menéndez.
Ao aborrecimento dos alunos não corresponde também a frustração dos professores?
Os professores têm esta consciência: "O que estou a fazer não me satisfaz mas eu não sei fazer de outro modo."
Ou "não posso"?
A mudança não é só individual. Posso mudar algumas coisas, mas não as dimensões organizacionais. Este modelo está esgotado, é um modelo que ensina a muitos como se fossem um só. Os jesuítas têm uma clarividência imensa porque foram questionar a raiz do seu próprio modelo. Para muitos jovens, mesmo os que vêm de camadas cultas, a escola não lhes diz nada. Há uma perda de sentido das aprendizagens escolares.
E não é garantido que no fim do percurso têm um emprego?
O meu pai dizia-me: "Decora, isso vai fazer-te bem, teres um curso superior vai dar-te emprego." Esta justificação desapareceu. Também mudaram as perceções dos jovens: são mais de curto prazo, têm mais que ver com gostar ou não, com opções diferentes. Mas o sentido das aprendizagens é fundamental. Ensinar a todos do mesmo modo, com o mesmo ritmo, já não resulta.`
As aprendizagens são colocadas sem sentido, mas eles têm acesso ao telemóvel, ao iPad, e a escola fica a perder.
Porque está ultrapassada?
Está ultrapassada. É uma coisa bué de chata. Os conservadores dizem que isto é uma pedagogia do facilitismo, uma pedagogia do prazer.
E é?
Não. Defendo que a escola deve ser uma escola da exigência. E quanto mais democrática é a escola, maior deve ser a exigência. A escola tem de ser exigente e as camadas populares têm o direito a aceder à beleza do conhecimento que foi construído na filosofia, na matemática, na grande música. A ideia de que a escola pública é uma escola de mínimos, que o pensamento conservador traz, com a ideia de um currículo básico, tem de ser ultrapassada.
Diário de Notícias, 22/02/2016